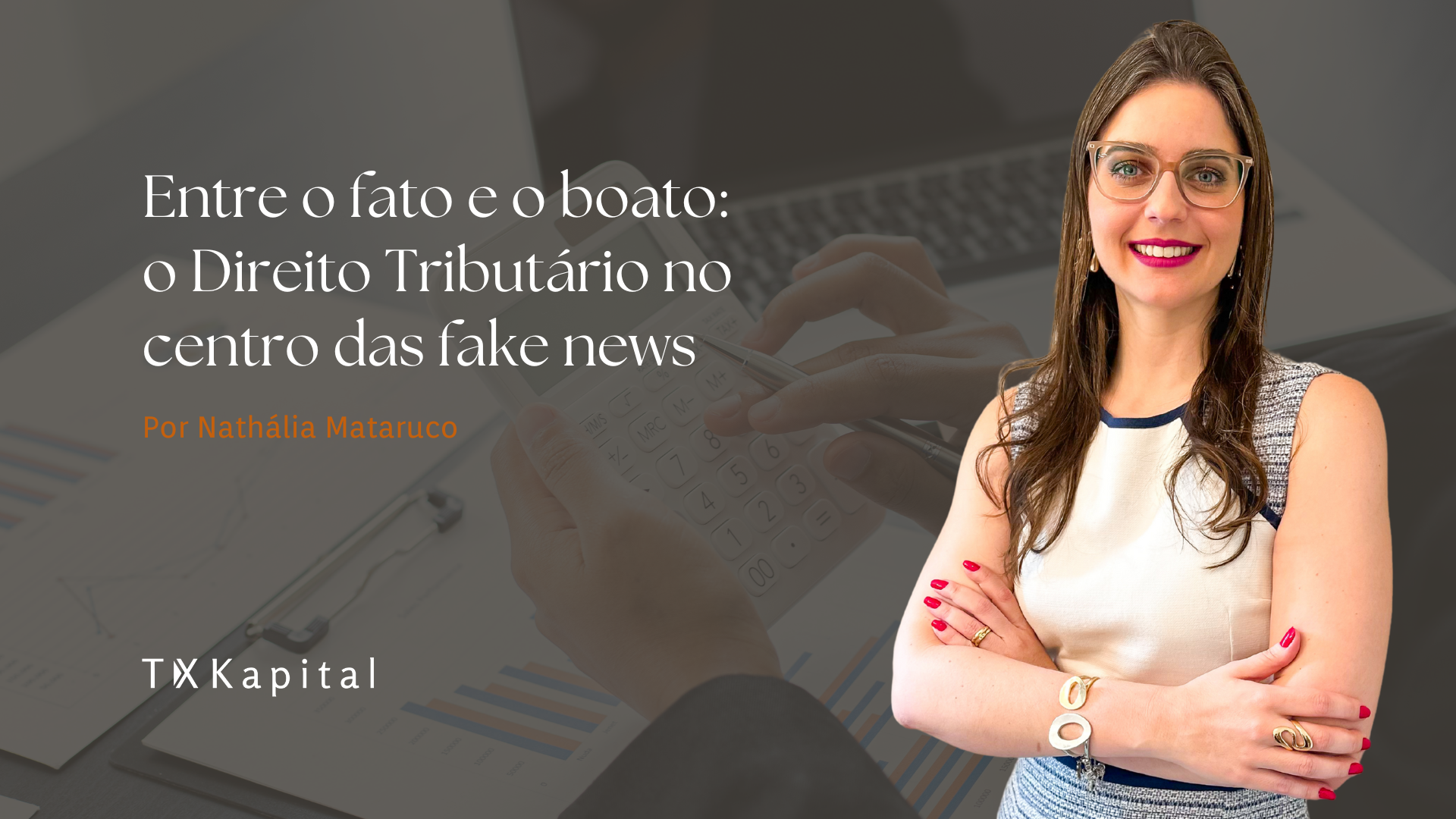João Pedro Silva de Toledo
Graduando em Direito pela FDRP/USP
Esse artigo é o primeiro de uma série de três textos que visam refletir e debater sobre o repasse de ICMS para os municípios.
A forma mais sintética e precisa para descrever o histórico do federalismo brasileiro é o chamar de “federalismo pendular”. Federalismo é a forma que um país se organiza, dividindo parte de sua autonomia para entes menores, como estados e municípios, permitindo que estes criem suas próprias leis e promovam suas próprias políticas públicas. Já pendular é para caracterizar como as constituições brasileiras ora tendiam ao centralismo político ora para a descentralização.
Naturalmente, se o Estado pretende descentralizar sua autonomia para outros entes, é preciso permitir que estes arrecadem recursos próprios, tal qual um jovem quando se torna independente dos pais e precisa ganhar salário próprio. Por outro lado, se o pai (governo federal) não permite que seus filhos (estados e municípios) saiam de casa e sejam independentes, não existe nenhuma razão para que seus rebentos arrumem salário. Portanto, a divisão dos tributos entre os entes federados está intrinsecamente associada à questão pendular do federalismo brasileiro.
De forma bastante resumida, pode-se dizer que nos três períodos republicanos houve a descentralização do poder da União, enquanto na monarquia e nas duas ditaduras (varguista e militar) o poder era concentrado no governo federal. Em termos financeiros e tributários, é um indício desse movimento pendular como a Velha República conferia aos estados a competência de instituir tributo de exportação – lembrando que essa era a principal atividade econômica da época –, enquanto Vargas decidiu limitar a alíquota desse imposto. Já na segunda república, período posterior à ditadura varguista, permitiu-se que os municípios instituíssem dois tributos próprios (imposto do selo municipal e o imposto de indústria e profissão), com a intenção de aumentar a dotação de seus recursos.
Nesse período pós Vargas também se criou aquilo que é o objeto central desse estudo: os repasses tributários para os municípios. Pensando na analogia com o filho que sai de casa para ganhar a vida, esses repasses seriam como se o pai União desse dinheiro para seus filhos Municípios ao perceber que o salário que eles ganham com o emprego não é suficiente para ter uma vida digna. Para citar alguns exemplos desse sistema da Segunda República, os municípios recebiam 10% da arrecadação do imposto de renda, de competência da União, e 30% da arrecadação estadual sobre qualquer atividade praticada no território do município.
Apesar da curta duração da Constituição de 1946, a ideia de repasses permaneceu no imaginário político desde então, estando presente tanto no regime militar como na sistemática da Constituição de 1988. Na Carta atual, o personagem mais famoso desses repasses é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Basicamente, ele é uma “conta” onde a União deve depositar 24,5% do arrecado em imposto de renda e em IPI. Então, esse valor será distribuído entre todos os municípios de forma diretamente proporcional à sua população e inversamente proporcional ao seu PIB. Assim, as cidades mais populosas e as mais pobres recebem uma ajuda maior desse fundo.
Contudo, o FPM não é único meio de repasses que os municípios têm direito. A União deve aos municípios 50% do ITR, 2,5% de IPI sobre produtos industrializados exportados e 7,25% sobre o CIDE. Existe também os repasses que os estados devem fazer aos municípios. São eles a transferência de 50% do IPVA arrecadado e de 25% do ICMS, o qual será melhor explicado no próximo texto.
Diante de todo esse resumo, talvez o leitor se pergunte qual a razão de existir um sistema tão complexo. É possível elencar três grandes justificativas para a existência dos repasses. Primeiro, essa é uma das principais ferramentas de ajuda aos municípios e, consequentemente, para a manutenção de sua autonomia federativa. Seria inviável pensar que um município pequeno sustentaria um aparato estatal mínimo apenas com os impostos municipais. Afinal, nesse cenário não haveria casas suficientes para uma boa arrecadação de IPTU ou comércio em grande monta para o ganho de ISSQN.
Em segundo lugar, é razoável que a sociedade brasileira busque formas de equalizar as desigualdades regionais que existem no país. Sendo um país continental e dado as diferenças históricas de desenvolvimento entre as regiões, o constituinte de 1988, acertadamente, pensou em um federalismo cooperativo, onde as regiões mais pobres se beneficiam mais de ajudas federais do que os estados e municípios já desenvolvidos. É exatamente por isso que o FPM distribui mais recursos aos municípios com menor PIB.
Por fim, seria injusto que União e estados recebem todas benesses dos tributos enquanto os municípios arcassem com a política pública do dia a dia. O melhor exemplo para elucidar o que aqui se argumenta é o caso do IPVA. Apesar de ser um imposto estadual, grande parte das vias públicas no Brasil estão dentro das cidades, logo são de responsabilidade dos municípios. Não existiria lógica que apenas os estados arrecadassem o tributo sobre os veículos enquanto os municípios assumissem os custos das ruas onde os automóveis mais transitam. Como bem diz o ditado popular, não há bônus sem ônus, sendo preciso, pois, existir o repasse do IPVA e de outros impostos para as cidades.
Portanto, os repasses de impostos aos municípios surgiu no Brasil no pós segunda guerra e desde então não desapareceu mais no nosso sistema federativo. O FPM não é a única forma de repasse de tributos, existindo inclusive compartilhamento de impostos dos estados aos seus municípios. Essa organização das finanças públicas se justifica para equalizar a situação financeira das cidades, que precisam de recursos mínimos para se sustentarem e se desenvolverem. Seguramente que uma sistemática como essa é complexa, cheia de nuances e com altas chances de apresentar injustiças. Nos próximos textos será apresentado de forma técnica como funciona o repasse de ICMS para os municípios e se mostrará uma possível problemática nessa transferência.